PRONTO-A-PENSAR
Uma vida humana completa não se realiza sem uma das mais importantes formas de intelecto: o pensamento filosófico. É de filosofia que se fala aqui.
terça-feira, 24 de novembro de 2020
Hume e o problema da indução
terça-feira, 17 de novembro de 2020
A «bifurcação de Hume»: relações de ideias e questões de facto
Neste curto e interessante vídeo, poderão assistir à explicação da distinção feita por David Hume entre «relações de ideias» e «questões de facto», distinção essa conhecida também como «bifurcação de Hume».
Senso comum e Ciência
Do senso comum fazem parte conhecimentos vulgares, mas muito úteis na vida quotidiana (saber cozinhar, conhecer a cidade onde se vive, saber que no Verão há mais calor que na Primavera, etc.).
Pode também incluir superstições, isto é, crenças falsas ou injustificadas (acreditar que o número 13 dá azar, acreditar que uma mulher durante o período menstrual não deve fazer bolos, pois estes não ficarão bons, etc.).
Vejamos algumas das características distintivas entre senso comum e ciência.
As crenças que fazem parte do senso comum adquirem-se com base na experiência quotidiana das pessoas, na chamada experiência de vida (que se distingue da experiência científica por ser feita sem um planeamento rigoroso, sem método). Nalguns casos trata-se de experiências pessoais, noutros casos são experiências partilhadas pelos membros da comunidade – no decurso do processo de socialização. Em suma, é um conhecimento que se adquire sem estudos, sem investigações.
Por exemplo: para aprender onde fica a padaria mais próxima de casa ou para aprender a atar os sapatos não é preciso efetuar uma investigação metódica, basta a experiência de vida.
Pelo contrário, a ciência implica investigações, estudos efetuados metodicamente.
Por exemplo: De outra forma, como se poderia descobrir a temperatura média de um planeta tão distante como Mercúrio? Como é que a simples experiência de vida podia permitir a descoberta de que a luz do Sol leva 8,33 minutos a chegar à Terra?
O senso comum é assistemático, na medida em que constitui um conjunto disperso e desorganizado de crenças (algumas constituem conhecimentos e outras não), não implicando por parte dos seus detentores um esforço de organização. Por isso, algumas das crenças podem ser contraditórias.
Por exemplo: as mesmas pessoas podem acreditar que “Quem espera desespera” e “Quem espera sempre alcança”.
Ciência é um saber sistemático, na medida em constitui um conjunto organizado de conhecimentos, havendo da parte dos cientistas um esforço para que as diversas teorias se articulem entre si e sejam coerentes.
Por exemplo: Os historiadores ficariam preocupados se descobrissem que, nas suas análises de um fenómeno do passado como a batalha de Aljubarrota, havia afirmações sobre o relevo da zona incompatíveis com as informações fornecidas pela Geografia.
O senso comum é impreciso, na medida em que normalmente não se exprime de modo rigoroso e quantificado.
A ciência é um saber mais preciso que o senso comum. As diversas ciências, naturais ou sociais, recorrem sempre que possível à Matemática, na tentativa de apresentar resultados rigorosos. Mesmo nas investigações em que não é possível quantificar (a observação psicológica de uma certa pessoa, por exemplo) existe essa procura do rigor.
Por exemplo: É de conhecimento geral que no Norte de Portugal chove mais do que no Sul. O conhecimento científico desse fenómeno é muito mais exato: no mês de janeiro de 2003, a precipitação em Faro situou-se entre os 20 e os 40 mm, enquanto no mesmo período no Porto situou-se entre os 350 e os 400 mm (de acordo com o Instituto de Meteorologia).
O senso comum é acrítico. Acrítico significa não refletido, não examinado. É compreensível que assim seja, pois trata-se de crenças cuja aprendizagem é informal: aprende-se à medida que se vai vivendo e tendo experiências, aprende-se vendo, ouvindo e imitando os outros. Muitas vezes essa aprendizagem é inconsciente: as pessoas não têm noção de que estão a aprender, mas vão interiorizando tradições, costumes, saberes práticos, etc. Tanto podem aprender crenças verdadeiras como crenças falsas e injustificadas (superstições).
Por exemplo: Algumas crianças portuguesas, ao observarem muitas vezes os pais e outros adultos deitarem lixo para o chão, aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correto. Outras crianças portuguesas – talvez em menor número – ao observarem muitas vezes os pais e outros adultos deitarem o lixo para o caixote aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correto. Na maior parte dos casos, tanto umas como outras realizam essas aprendizagens sem refletir, sem discutir: limitam-se a imitar. Ou seja: aprendem acriticamente.
A ciência não pode ser acrítica como o senso comum. Pelo contrário, implica uma atitude crítica por parte dos cientistas. Ou seja: para fazer ciência é preciso refletir, pensar pela própria cabeça, e ter uma preocupação permanente com a fundamentação das ideias. Os cientistas devem ter essa atitude crítica relativamente às suas próprias ideias e relativamente às ideias dos outros.
Por exemplo: um cientista que queira publicar um artigo científico numa revista tem de submetê-lo a um processo de avaliação que costuma ser chamado “refereeing”: o artigo tem de ser lido primeiro por especialistas da área; o nome destes não é divulgado e estes também não sabem quem é o autor do artigo, para que a crítica possa ser mais livre e imparcial.
domingo, 12 de abril de 2020
Respostas ao problema da natureza dos juízos morais
 |
| PROTÁGORAS de Abdera (490 - 420 a.C.) |
 |
| Jean-Paul SARTRE (1905-1980) «se admito que tal ato é bom, a mim compete a escolha de dizer que tal ato é bom e não mau» (in O existencialismo é um humanismo) |
| John Leslie MACKIE (1917-1981) defendeu que os juízos morais não podem ser objetivamente verdadeiros, porque não há factos que os tornem verdadeiros |
 |
| HERÓDOTO de Halicarnasso (485 - 425 a.C.) «o costume é o rei de todos nós» |
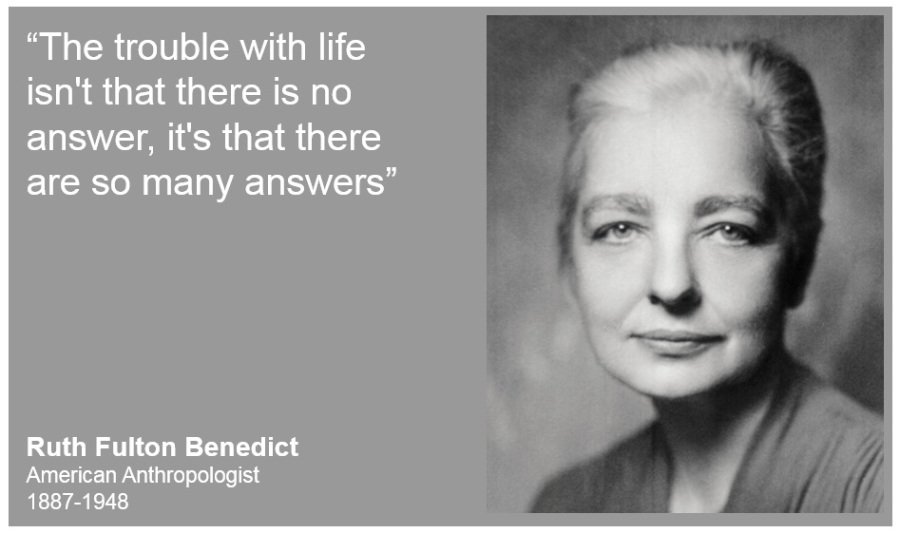 |
| Ruth BENEDICT (1887 - 1948) «a moralidade varia em todas as sociedades» |
quinta-feira, 9 de abril de 2020
Objeções à teoria do objetivismo moral
1. Argumento objetivista da tolerância (ou contra a intolerância)
Este argumento defende que a tolerância é um valor objetivo ou universal (e não apenas relativo a um sujeito ou a uma cultura). Daí que todos devem considerar verdadeiro o juízo moral «A tolerância é um bem» ou «Todos devem ser tolerantes», pelo que não é aceitável que haja pessoas ou sociedades que não sejam tolerantes.
2. Objeção ao argumento objetivista da tolerância (ou contra a intolerância)
O relativismo moral criticaria este argumento do OM dizendo que esta teoria condena a intolerância porque a nossa própria sociedade condena a intolerância, impondo às outras culturas os pontos de vista próprios da nossa cultura particular. Por exemplo, para as sociedades que obrigam as adolescentes a casar ou as crianças a trabalhar, isso não é encarado como um mal, são práticas antigas e comuns. E se condenamos isso é porque estamos a avaliar esses costumes à luz dos costumes e dos juízos morais da nossa própria cultura.
3. Argumento objetivista da imparcialidade
Para o OM, o critério que avalia um juízo moral como objetivo (verdadeiro ou falso transubjetivamente, isto é, para todos) é a razão, que é um critério imparcial. Assim, é por boas razões, informadas e imparciais, que todos devem concordar que «Não devemos discriminar negativamente ninguém».
 |
| Susan Wolf |
Contra este argumento pode objetar-se que, como fez Susan Wolf (1982), se formos rigorosamente imparciais do ponto de vista moral (uma espécie de «santos morais»), dificilmente teremos uma vida pessoal plenamente realizada: como teríamos de dar a mesma importância e atenção a todas as pessoas (sejam elas familiares, amigas, conhecidas ou desconhecidas), deixaríamos de poder ter tempo necessário para dedicar aos que nos são próximos, assim se quebrando os laços familiares e de amizade. Ora, agir sistematicamente de modo imparcial não é desejável em alguns casos, sendo que as relações morais perdem sentido se não envolverem alguma parcialidade.
A teoria do objetivismo moral
 Perante o problema da natureza dos juízos morais (problema de saber qual o critério para decidir se os juízos morais são verdadeiros ou falsos), as teorias do subjetivismo moral (SM) e do relativismo cultural (RC) defendem que esse critério é relativo: às preferências individuais, no caso do SM; e às preferências da maioria das pessoas de uma sociedade ou cultura, no caso do RC. Assim, para estas teorias, a verdade ou falsidade de um juízo moral (por exemplo, «Matar inocentes é repugnante») depende ou é relativo à avaliação de cada sujeito (SM) ou de cada cultura (RC) e, por isso, não há juízos morais objetivos ou universais, isto é, que todas as pessoas e todas as culturas considerem consensualmente que são verdadeiros ou que são falsos (daí que possa haver pessoas e culturas que considerem que «Matar inocentes não é repugnante»).
Perante o problema da natureza dos juízos morais (problema de saber qual o critério para decidir se os juízos morais são verdadeiros ou falsos), as teorias do subjetivismo moral (SM) e do relativismo cultural (RC) defendem que esse critério é relativo: às preferências individuais, no caso do SM; e às preferências da maioria das pessoas de uma sociedade ou cultura, no caso do RC. Assim, para estas teorias, a verdade ou falsidade de um juízo moral (por exemplo, «Matar inocentes é repugnante») depende ou é relativo à avaliação de cada sujeito (SM) ou de cada cultura (RC) e, por isso, não há juízos morais objetivos ou universais, isto é, que todas as pessoas e todas as culturas considerem consensualmente que são verdadeiros ou que são falsos (daí que possa haver pessoas e culturas que considerem que «Matar inocentes não é repugnante»).Ora, esta tese é negada pela teoria do objetivismo moral (OM), que defende que alguns juízos morais (mas não todos) são objetivos, isto é, a sua verdade ou falsidade não depende de preferências individuais nem do que a maioria das pessoas de uma cultura decide ser correto ou errado. O juízo moral «Matar inocentes é repugnante» é, para o OM, objetivamente verdadeiro, tão verdadeiro como o juízo de facto «São as nuvens que produzem a chuva».
E o critério usado pelo OM para avaliar se um juízo moral é objetivamente verdadeiro ou falso é a razão (e não a preferência pessoal ou a perspetiva particular de uma cultura): é moralmente correto tudo o que respeitar os Direitos Humanos; é moralmente errado tudo o que violar os Direitos Humanos. Portanto, para o OM há juízos morais objetivos e o critério para julgar os factos morais tem de ser imparcial e transubjetivo (válido para todos os sujeitos e para todas as culturas), ou seja, tem de se basear em boas razões, em razões informadas e que respeitem a dignidade do ser humano.
Objeções à teoria do relativismo cultural
 Segundo a teoria do relativismo cultural (RC), i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é o que a maioria das pessoas numa sociedade ou cultura convenciona, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências sociais ou culturais.
Segundo a teoria do relativismo cultural (RC), i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é o que a maioria das pessoas numa sociedade ou cultura convenciona, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências sociais ou culturais.1. Argumento relativista da diversidade cultural
Este argumento parte da premissa de que diferentes sociedades têm padrões culturais e códigos morais diferentes, para concluir que o valor de verdade dos juízos morais não é objetivo ou universal: por exemplo, o juízo moral «A poligamia é aceitável» é avaliado de modo diferente pelas diversas culturas, sendo verdadeiro para umas (como as culturas islâmicas) e falso para outras (como as culturas judaico-cristãs).
2. Objeção ao argumento relativista da diversidade cultural
Do facto de haver discordância sobre a avaliação de factos morais não se pode concluir que não pode haver verdades objetivas (aceites consensualmente) sobre juízos morais, tal como do facto de haver diferentes opiniões sobre a existência de Deus ou de extraterrestres não se pode concluir que essas opiniões são todas verdadeiras, o que seria contraditório, ou que a existência de Deus ou de extraterrestres depende das convenções sociais.
Aliás, há juízos morais que são verdadeiros para todas as culturas, como «Matar pessoas indiscriminadamente é errado». Por outro lado, se uma sociedade aprova o infanticídio e outra reprova-o, não será que o juízo moral «O infanticídio é um crime» deve ser verdadeiro para todas as culturas? Portanto, o facto de haver diversidade de padrões e códigos morais não é uma condição suficiente para que não haja juízos morais cujo valor de verdade seja objetivo e válido para todas as culturas; e há culturas com códigos morais errados (como os da sociedade europeia quando aprovava a escravatura e os da sociedade alemã no tempo do nazismo).
3. Argumento relativista da tolerância
Este é o argumento mais sedutor do RC: defendendo a tolerância, afirma que nenhuma sociedade ou cultura tem mais razão, é melhor ou superior a outra, e nenhuma deve impor os seus padrões e códigos morais a outras. Ou seja, o RC defende que se não aceitarmos que os juízos morais são relativos a uma cultura, estamos a ser intolerantes.
4. Objeção ao argumento relativista da tolerância
O problema deste argumento é que não considera que há em muitas culturas práticas que são reprováveis e mesmo monstruosas, que discriminam, maltratam e fazem sofrer pessoas com base em preconceitos, superstições e crenças sem fundamento, e perante as quais a tolerância pode equivaler a indiferença. Portanto, a tolerância nem sempre é desejável.
Além disso, se uma sociedade decidir que «a intolerância perante pessoas de culturas diferentes é correta», o RC tem de tolerar essa decisão e, logo, ao defender a tolerância, o RC pode levar perigosamente à aprovação da intolerância.
5. Argumento relativista da opinião maioritária e da coesão social
Para o RC, o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é o que a maioria das pessoas numa sociedade ou cultura convenciona: é bom ou correto o que for aprovado pela maioria e, dessa forma, promove-se a coesão social (o correto é que todos sigam as práticas convencionadas pela maioria).
6. Objeção ao argumento relativista da opinião maioritária e da coesão social
Muitos casos documentam que a maioria pode estar enganada (por ignorância ou desinformação, originando a falácia ad populum) e nem sempre o que é aprovado pela maioria é correto: durante séculos a maioria pensou que o Sol girava à volta da Terra, que a escravatura era aceitável e que as mulheres não podiam votar; e, nos anos 30, a maioria do povo alemão viu em Hitler o líder que salvaria o país.
Assim, este argumento do RC também conduz ao conformismo: se fossemos relativistas e o que a maioria aprovasse prevalecesse sempre sobre a opinião da minoria, as sociedades estagnavam e não haveria progresso civilizacional e moral (por exemplo, ainda hoje haveria escravatura e as mulheres não poderiam votar). Portanto, em todas as sociedades é necessário algum inconformismo que denuncie o que pode estar errado no que a maioria aprova e com isso promova a mudança e o progresso cultural.
quarta-feira, 8 de abril de 2020
A teoria do relativismo cultural
 Eructar (arrotar) à mesa após uma refeição é censurável? Na Arábia Saudita não é!
Eructar (arrotar) à mesa após uma refeição é censurável? Na Arábia Saudita não é!Duas pessoas beijarem-se nos lábios em público é inadmissível? Na Indonésia é!
Cuspir para o chão na rua é um ato de higiene? Na China é!
Comer uma sopa de cão é um hábito repugnante? Na Coreia do Sul não é!
E os exemplos da diversidade de padrões de cultura e de códigos morais, de costumes e tradições, multiplicam-se indefinidamente.
Ora, esta é uma das razões em que se baseia a teoria do relativismo cultural (RC) para defender que: i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é o que a maioria das pessoas numa sociedade ou cultura convenciona, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências sociais ou culturais: um comportamento considerado bom numa cultura, pode ser considerado mau noutra. Dizer «As mulheres não devem ter os mesmos direitos dos homens» significa dizer «Esta cultura aprova a desigualdade de género»; dizer «As mulheres devem ter os mesmos direitos dos homens» significa dizer «Esta cultura reprova a desigualdade de género».
Portanto, o RC limita ao âmbito de uma sociedade ou cultura a validade do que é considerado verdadeiro ou falso - os juízos morais são relativos a cada cultura - e nenhuma sociedade ou cultura tem mais razão do que outra, devendo respeitar e abster-se de julgar as outras.
Para o RC, o bem e o mal são convenções sociais e variam de sociedade para sociedade (tal como a obrigação de conduzir pela esquerda ou pela direita é uma convenção), pelo que não há juízos morais objetivamente verdadeiros ou falsos, que sejam aceites por todas as culturas da mesma forma.
terça-feira, 7 de abril de 2020
Objeções à teoria do subjetivismo moral
 Segundo a teoria do subjetivismo moral (SM), i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é a opinião individual, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências ou sentimentos pessoais.
Segundo a teoria do subjetivismo moral (SM), i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é a opinião individual, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências ou sentimentos pessoais.1. Argumento subjetivista da discordância
Este é um argumento simples a favor do SM e parte da premissa de que sobre juízos morais não há consensos, mas apenas discordâncias («Se os juízos morais não fossem subjetivos, não haveria discordância»): o que para uma pessoa é correto ou justo, para outra pode ser incorreto ou injusto. Ou seja, há desacordo entre as pessoas relativamente à avaliação de factos morais (pena de morte, aborto, eutanásia, homossexualidade, racismo, violência, etc.).
2. Objeção ao argumento subjetivista da discordância
Do facto de haver discordância sobre a avaliação de factos morais não se pode concluir que não pode haver verdades objetivas (aceites consensualmente) sobre juízos morais, tal como do facto de haver diferentes opiniões sobre a existência de Deus ou de extraterrestres não se pode concluir que essas opiniões são todas verdadeiras, o que seria contraditório. O facto de poder não haver consenso entre as pessoas resulta muitas vezes de ignorância, teimosia ou incapacidade, podendo haver discordância mas ao mesmo tempo poder haver juízos morais objetivamente verdadeiros: «Há juízos morais que não são subjetivos, mas há discordância» (negação da premissa do argumento subjetivista da discordância). Por exemplo, há consenso sobre a verdade de juízos morais como «a escravatura é um crime», «o trabalho infantil deve ser combatido» ou «a excisão é uma aberração».
3. Argumento subjetivista do fomento da liberdade
Em defesa do SM pode argumentar-se que, se a verdade dos juízos morais não dependerem das preferências ou sentimentos pessoais, então são imposições exteriores que limitam a nossa liberdade de opinião e de ação.
4. Objeção ao argumento subjetivista do fomento da liberdade
O SM preocupa-se com o fomento da liberdade sem ter em conta que à liberdade está associada a responsabilidade, nada dizendo sobre como usar a liberdade de forma responsável. Por exemplo, e porque para o SM a minha opinião não é melhor nem pior do que a dos outros, se uma pessoa defender que o juízo moral «matar inocentes é aceitável» é verdadeiro, então todas as opiniões, mesmo as mais absurdas e monstruosas, não são piores do que quaisquer outras.
Portanto, a verdade dos juízos morais pode não depender das preferências ou sentimentos pessoais, mas não serem imposições exteriores que limitam a nossa liberdade de opinião e de ação (negação da premissa do argumento subjetivista do fomento da liberdade).
5. Argumento subjetivista da tolerância
O SM argumenta que se o valor de verdade dos juízos morais depender das preferências e sentimentos de cada pessoa (e não há sentimentos melhores nem piores), então tornamo-nos mais tolerantes, respeitaremos melhor as opiniões e ações dos outros e ninguém pode dar lições de moral a ninguém ou impor as suas opiniões.
6. Objeção ao argumento subjetivista da tolerância
Há neste argumento do SM uma contradição: por um lado, defende que não há juízos morais objetivamente verdadeiros (válidos para todos) e, por outro, defende que «ser tolerante é bom», devendo a tolerância ser respeitada por todos e não depender da opinião individual. Portanto, o SM acaba por refutar-se a si próprio (é autorrefutante).
E se formos tolerantes e subjetivistas, há um perigo claro: devemos tolerar todos os juízos morais, mesmo o de alguém que pense que «matar quem não concorda comigo é correto». Será isso aceitável?
A teoria do subjetivismo moral
Perante esta pergunta, duas respostas ou teses se afiguram: «a pena de morte é uma sentença justa» e «a pena de morte não é uma sentença justa». Estas respostas ou teses são proposições que exprimem juízos morais, isto é, juízos de valor normativos, que avaliam a (in)correção, (in)justiça ou (in)admissibilidade de um facto moral ou ação concreta, neste caso sentenciar alguém com a pena de morte.
Mas qual é a resposta verdadeira à pergunta inicial?
A esta pergunta há que considerar uma pergunta anterior: sendo essas duas respostas possíveis juízos morais, podem os juízos morais ter valor de verdade (serem verdadeiros ou falsos)? E se sim, qual é o critério para decidir se um juízo moral é verdadeiro ou falso? É o problema da natureza dos juízos morais.
Segundo a teoria do subjetivismo moral (SM), i) os juízos morais têm valor de verdade e ii) o critério que determina o valor de verdade de um juízo moral é a opinião individual, ou seja, o certo e o errado dependem das preferências ou sentimentos pessoais. Dizer «a pena de morte é uma sentença justa» significa dizer «Eu aprovo a pena de morte»; dizer «a pena de morte não é uma sentença justa» significa dizer «Eu reprovo a pena de morte».
Portanto, nenhuma das respostas à pergunta inicial é, em si, verdadeira ou falsa, ficando ao critério de cada um avaliar como louvável ou censurável a pena de morte. O SM limita ao sujeito a validade do que é considerado verdadeiro e do que é considerado falso e daí a frase de Protágoras «O homem é a medida de todas as coisas», no sentido em que não há verdades objetivas sobre os valores, o valor de verdade dos juízos morais depende da avaliação que cada um faz, pelo que perspetivas diferentes sobre um mesmo facto moral são igualmente válidas, lembrando os provérbios populares «cada cabeça sua sentença» e «gostos não se discutem».







